Os pobres que paguem a crise
Tudo igual, com a diferença de já não ser preciso justificá-lo. Já não acontece “para nosso bem”. Acontece porque sim.
Lembram-se? No primeiro ato desta história diziam-nos algo assim: é preciso deixar os ricos contentes e todos ganharemos com isso. Por “ricos” entendia-se uma série de eufemismos: os “grandes empresários”, as “companhias mais dinâmicas”, os “investidores arrojados”, etc. Esta gente precisava de um especialíssimo ambiente para poder prosperar: um ambiente onde nada os contrariasse e, ainda assim, se criassem regras especiais para os atrair, seduzir e manter felizes. Era necessário que pagassem menos impostos do que nós todos, como era necessário que nos pudessem despedir com mais facilidade. Era necessário que o estado gastasse menos dinheiro connosco; a classe média (e até a classe baixa) compensariam a perda através do cartão de crédito, das dívidas em geral, e do empréstimo para continuar os estudos.
E foi assim que os estados — em princípio feitos de cidadãos como você e eu — e os governos eleitos pela maioria de nós passaram décadas preocupando-se principalmente em mimar uma minoria em detrimento da maioria. Em “detrimento” não, peço perdão! Para nosso bem: era o tempo de metáforas como “se fizermos crescer o bolo haverá mais para toda a gente” ou “é preciso criar riqueza para depois a distribuir” ou “se chover para os mais ricos acaba por pingar para todos”. Para bem das pedras que aguentavam a base da pirâmide era necessário que chovesse apenas na pedra lá do topo; alguma coisa haveria de escorrer por aí abaixo.
Alguém perguntava se em vez de criar riqueza para depois a distribuir não haveria forma de, desde logo, criar riqueza de forma mais distribuída. Mas não era escutado. Para perguntar como criar riqueza bastava a opinião dos ricos.
***
O segundo ato foi quando este belo mundo implodiu. Afinal, deixar a alta finança sem regulação não garante crescimento infinito. Afinal, despedir gente para aumentar valor em bolsa não é melhor do que ter empresas sólidas com produtos que as pessoas queiram. Afinal, as pessoas que faziam “gestão de risco” não sabiam que os preços das casas não sobem para sempre. Afinal, toda a gente percebeu que o bolo tinha diminuído e não aumentado.
E foi então que tivemos de os salvar.
Sem a ajuda pública o sistema financeiro teria colapsado após setembro de 2008. Os bancos, tal como os conhecemos, não existiriam se não os tivéssemos salvo. Para isso gastámos o dinheiro que deveria ter ido para os nossos hospitais, escolas, jardins e bibliotecas.
O terceiro ato faz de tudo isto uma obra-prima do teatro do absurdo. Porque o terceiro ato é igualzinho ao primeiro: os altos executivos continuam a ter os mesmos bónus que tinham antes, os lucros dos bancos que nós salvámos continuam a pagar menos impostos do que nós pagamos e o sistema financeiro não teve ainda reforma que se visse. Tudo igual, com a diferença de já não ser preciso justificá-lo. Já não acontece “para nosso bem”. Acontece porque sim.
Para lançar sal na ferida, no quarto ato regressam reputados economistas que não previram a crise e descobrem que o estado está falido. E dizem-nos que para salvar o estado precisamos de “medidas radicais”, entre as quais se conta baixar os salários da classe média em cerca de quinze por cento ou mais, naturalmente que para nosso bem. Parafraseando uma crónica recente de Daniel Oliveira no Expresso: se eu disser “os ricos que paguem a crise” sou um populista irresponsável; se eu disser “os pobres que paguem a crise” sou um lúcido realista.
E assim chegamos ao quinto ato. É aquele que não está escrito ainda.
Rui Tavares
[do Público]
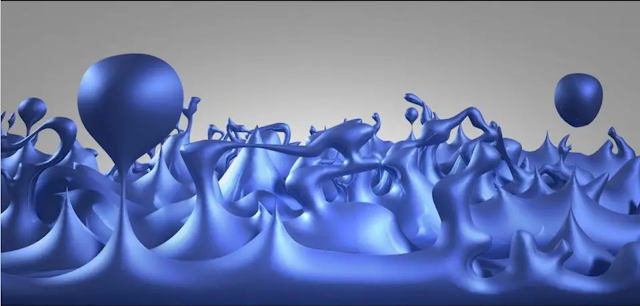

Comments